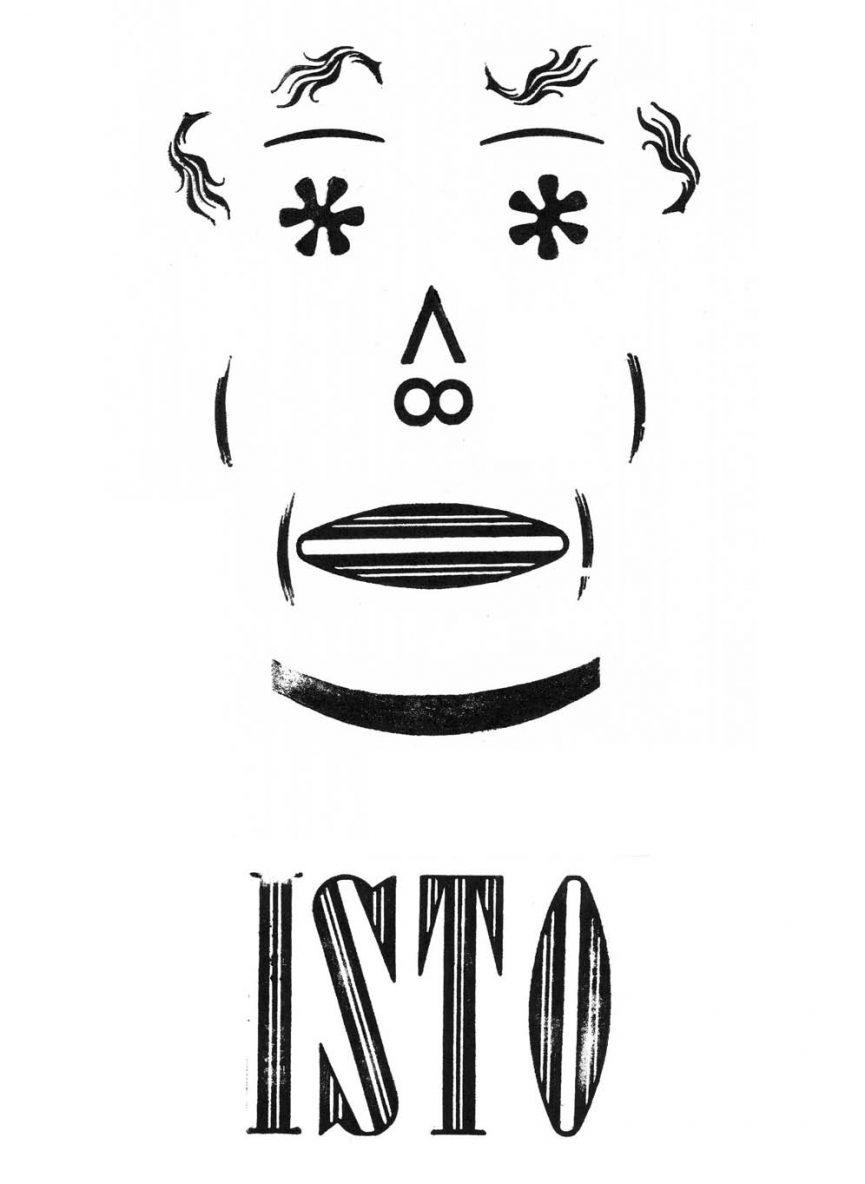Homem do Saco
por Luís Henriques, Ricardo Castro,
Luís França e Rui Miguel Ribeiro,
com a participação especial de
Miguel Ferreira
almudena vega
Procurava ver azul escuro. Como as árvores ao longe, nas montanhas. Como o tempo. Ao longe. Na planura das coisas definitivamente perdidas. Procurava escrever um romance com a inteligência da distância, embora, havia muito, soubesse que só a proximidade é um pouco menos que estúpida. Mas a distância tende a parecer bem. Apazigua. Dá-se ares de não depender de ninguém. Dá, até, a ilusão de que quem a escreve não pára para comer uma sandes.
As paragens para comer uma sandes, meter gasolina, dormir debaixo de uma árvore, fornicar com um rosto de passagem, saíram de moda, recolheram-se atrás do véu de neblina para onde remetemos as coisas em que não vale a pena pensar. Não, exactamente, porque nos dêem vergonha, mas porque se tornaram inúteis. É o que se passa, por exemplo, com as costureiras. Para quê? A roupa vem-nos ter a casa com uma guia de remessa muda e o eventual bilhete de regresso devidamente preparado. Que sobra, então, para a literatura? Um arremedo de filosofia, pouco mais, um guia espiritual ao alcance dos que não têm espírito porque não têm corpo e não têm corpo porque este pressupõe mobilidade. (Aliás, a ideia pode expressar-se inversamente: não têm corpo porque não têm espírito e não têm espírito porque este pressupõe a viagem, o bascular constante entre todos os pontos da rosa dos ventos da imaginação.)
Procurava ver azul escuro, portanto. Mas, como sempre, ainda mal começara a procurar e já a desconfiança, a desconfiança em mim mesmo, na minha constância, me minava o projecto e essa procura. Apetecia-me uma sandes, uma sandes detalhada: mortadela, alface, se possível vinagrete. Apetecia-me um quarto-sala semelhante ao de Freud: mantas e tapetes, de padrões complicados, subindo pelas paredes, entranhando-se nas brechas do pensamento; bric-à-brac, bric-à-brac, tic-tac, e o tempo a passar.
Há coisas a que não conseguimos escapar, a não ser que nos arranquemos a glote. No meu caso, trancando a boca abstracta e abrindo os olhos ao acaso, em que memória e sonho se confundem, como num diapositivo em que somos o que já não somos e talvez nunca tenhamos sido, ocorre-me dizer: uma camisola às riscas brancas e amarelas num terraço de tijoleira junto ao mar, olhando a câmera como se esta fosse os olhos de uma sereia. Ou: uns óculos de tartaruga redondos, um chapéu colonial e uma bengala nas traseiras de um prédio pequeno-burguês, olhando quase para dentro, para evitar confrontar- me com o muro brutal que já então se insinuava entre os esforços da parecença e a dificílima argamassa do sonho.
De nada me serve a distância. De bem pouco me tem servido a inteligência. Quando o tal vinagrete se encontra com o fluido do cérebro (o líquor!), o pensamento assemelha-se a uma lâmpada de lava, anos 60, 70, LSD, viagem pelos refegos de um mamute congelado, contra-picado para dentro das saias de uma bamboleante boneca havaiana, a ameaça das imponderáveis crianças espanholas que me querem roubar os caramelos, uma solidão demasiado povoada. É isto que sou. Inescapavelmente. Só isto posso escrever. Escrevê-lo-ei. Insisto. Não como quem pensa doar os órgãos mas como um animal que, embora prestes a extinguir-se, marca, com urina, as árvores do seu suposto território, num misto de negação e nobiliarquia.
Paremos ambos um pouco para pensar nisto… Pois… Exactamente… Por que razão me hás-de ler, e como, não te sei dizer ao certo. Com o prazer inconfessável de um mirone de acidentes de automóvel? Empunhando o registo, minucioso e impessoal, de alienistas e inquisidores? Tu próprio esbracejando ora a favor ora contra vagas e vagalhões de doce de laranja? Só até meio, porque chega — vinhas à procura de Literatura (maiúscula, como, em geral, as coisas de somenos) e dei-te uma colecção de selos que não aspira, sequer, a filatelia? Ou, simplesmente, porque nos cruzámos na infância ou num bar de hotel e trocámos números de telefone?
Confesso que prefiro esta última hipótese. Como escreveu um velho amigo, sacerdote e apóstata e converso de quase todas as fés, escrevo para que alguns me possam amar. E é nisto dos alguns que tenho jogado os dias, a premência, a intemperança; mas também o abandono, a sesta ressacada sobre a mesa da conferência, com a plateia já a compor-se, o escarro aos pés do importantíssimo editor.
Se me lerem, vão, de preferência, ao mesmo tempo, manuseando um rosário feito das contas do ábaco que roubámos juntos na sala dos fundos da Sociedade Anónima da Imaginação Ilimitada. Também podem não me ler — parece-me bem. Ou, então, façam-no como quiserem — não me preocupa. O que me ocupa (o que me ocupa muito) é o que me encanta: por exemplo, as idas e vindas de Tintim ou Sherlock Holmes até desenovelarem um dia eterno.
E o que me fez cerrar um punho de sangue na boca do estômago e nunca mais conseguir descerrá-lo foi tudo o que atrofia o ar que essas grandezas deveriam respirar: a fome, a miséria, a gula, os luxos sem proveito. Uma criança que morre de fome nunca saberá o que se passou com o ceptro de Ottokar, nunca saberá que o céu é reformarmo-nos como apicultores em Sussex Downs, nunca saberá que o céu também pode ser aqui.
E que, para isso, basta renegar a distância; fazermo-nos um com o doce de laranja, a cada braçada de costas, olhando um sol de lava, em constante mutação; arejar a casa; correr o véu atrás do qual exilámos as costureiras. Basta — bem simplesmente — imolar aos deuses os néscios que nunca foram à gloriosa ilha de Utopia. Que nunca serão, eles mesmos, utopia. Ao contrário da minha carne, mesmo enrugada e triste. Ainda. E sempre.
Para o Emanuel Félix
Pequenos ratos dizimados por cheia,
inertes e encharcados,
os lenços de papel aterram, um após outro, no cesto
das desilusões, das mágoas, do inexorável cacimbo do tempo,
sem que, dias a fio, de tanto impo, o rosto descongestione
da tua ausência, agora permanente, planante,
e do pouco que a atenua uma poalha de fé
em má hora espanada do ombro para o soalho.
Tivera um morto de bátega afivelada em céu cinzento,
outro de sismo interior e ondas de choque,
tornando o chão um espelho de azeviche,
mas nunca, antes de ti, a convulsão da terra
semelhara assim, mais que impotência, uma vontade
de partir também.
Perdoa os onze anos de demora
em dizer-te tudo isto com letras de candeia,
destas em que, inábil, me procuro,
entre o mistério dos vales e a dormência das mãos,
cedo saturadas de si mesmas e da hipócrita trilha sonora
com que impuseram um embalo serôdio
ao nosso autocarro para a liberdade.
Há aqui (bem o sabes) quem, como lixa de água no metal,
se desluza, sem proveito, a desdenhar o sublime decantador
dos versos de Akahito, Sobre os lagos quietos,
dos traços de Miró, íris tremeluzentes,
ou a ternura que votamos à asa quebrada de uma ave estranha,
que urge nomear antes que a noite chegue.
Mas há também (nunca duvides,
nem que o vento, trânsfuga, te acometa)
quem olhe para o céu, em ridente tristeza,
ante a evocação da tua graça.
Porque tanto foi o que a tantos nos deste
que, por mim, lhe chamo apenas madrugada.