Miguel Filipe M.
TODAS AS PALAVRAS - POESIA REUNIDA
Manuel António Pina
Lisboa, Assirio & Alvim, 2012.
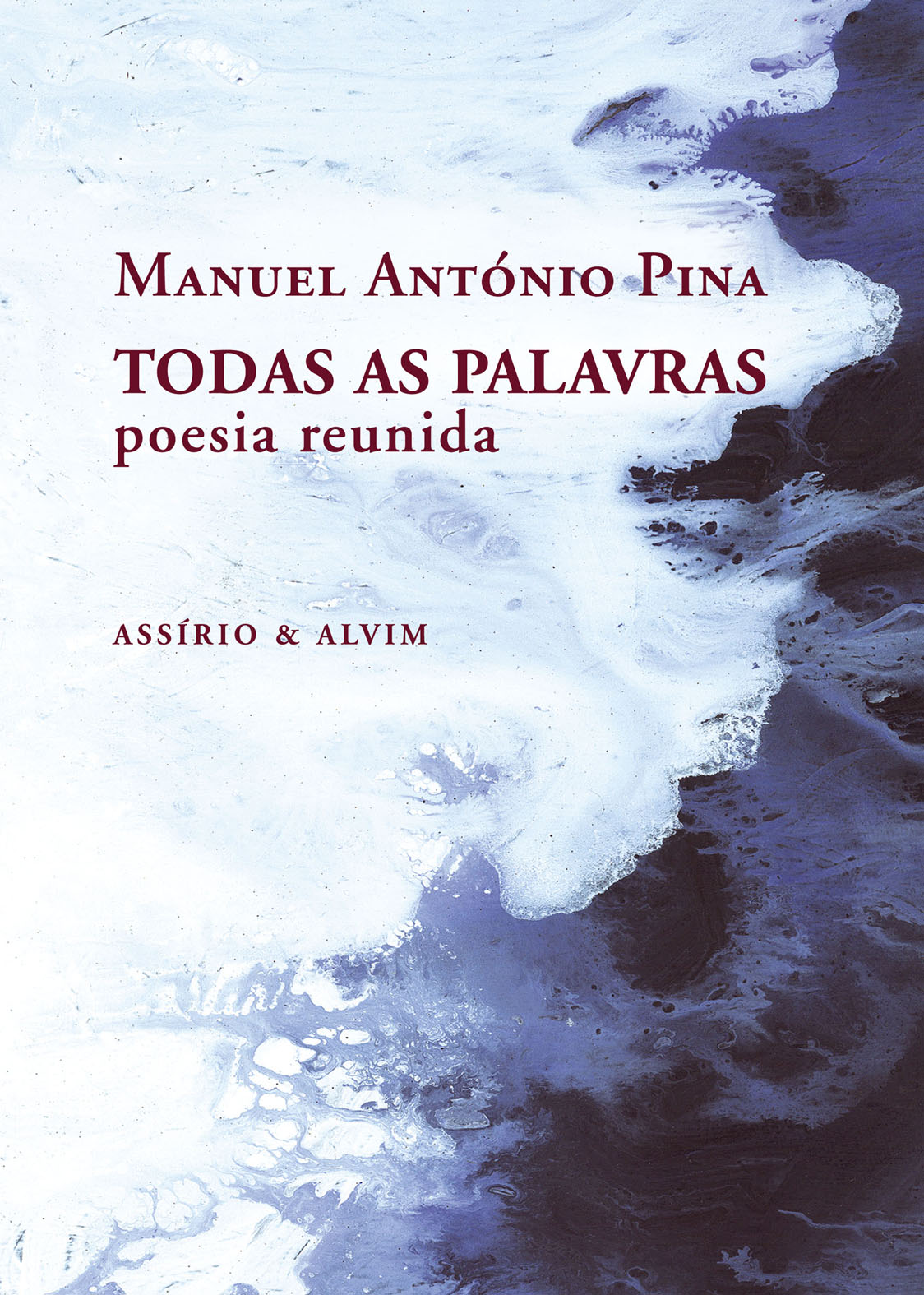
Aleitura da poesia reunida de Manuel António Pina, interposição de um transcendental (a própria linguagem) entre falecido em 2012, confirma o conjunto de problemáticas em torno das quais a sua obra se sustenta, relatadas a uma preocupação auto-reflexiva que privilegia o questionamento do dilema da identidade: “Eu sou talvez aquilo que me falta”. A convivência com a experiência ironizada do eu desenha-se a partir de uma série de dualidades (eu/outro, presente/passado, poesia/prosa) que concretiza o pressentimento de uma descoincidência entre realidade e ilusão. Partindo, por exemplo, da hipótese quântica da existência de universos paralelos - “Determinei, pois, dois lados: um, admitamos, Real; outro Virtual” – recupera-se um registo com uma vocação amiúde surrealizante e desconstrutiva que dá conta de uma dissidência entre concreto e projectivo - “Entretanto dobrar-se-ia o mundo / (o teu mundo: o teu destino, a tua idade) / entre ser e possibilidade” - que instala a interrogação acerca da possibilidade cognoscente do indivíduo e do sentido para a existência, para isto. Partícipe fulcral da dualidade que assinala a existência, é o próprio eu quem concretiza de forma mais radical o problema da descoincidência realidade-ilusão que arvora na dissidência dele a si mesmo: “Agora quem sente / isto fora de mim, / quem é este Ausente?”; “Um intruso grita / dentro de mim, oiço-o no coração”; “Alguma coisa fora de mim / está escondida em mim / como um coração exterior”.
O indivíduo reconhece assim a possibilidade de que “talvez tudo exista exilado / de alguma verdadeira existência”. Esse exílio aparece como uma condição decorrente da o eu e o mundo, que inviabiliza o acesso daquele a este, na medida em que se descobre falsificado, mediado ele próprio pela malha referencial da linguagem que o circunscreve e que não comunica com a verdade: “Para cá de mim e para lá de mim, antes e depois. / E entre mim eu, isto é, palavras”. Assim, a linguagem, o conjunto de sentidos que dela em cada indivíduo se desprende, limita a possibilidade percepcional do eu, encerrado como está em si mesmo -“É duro sonhar e ser o sonho, / falar e ser as palavras!” - numa inversão da lógica discursiva que faz do próprio sujeito um enunciado: “aquele que escreve / é também eternamente escrito”. Uma totalização da mediação linguística do acesso do eu à realidade, como grelha interpretativa irredutível ao todo - “O que é feito de nós senão / as palavras que nos fazem?” – lança o indivíduo num universo omisso, de silenciamentos, de ausência de um cenário significativo: “As palavras esmagam-se entre o silêncio / que as cerca e o silêncio que transportam”. Desse modo se agudiza a impossibilidade de uma apropriação da realidade por parte de um sujeito que apenas a entrevê como um dado exterior: “eu sou o lugar onde tudo isto se passa fora de mim”. Encerrado como está no ciclo da sua própria consciência limitada, obsessivamente revisitada - “eternamente regressamos / ao sítio de onde nunca saímos” – a realidade transporta o signo de uma absoluta alteridade - “A realidade é uma hipótese repugnante, / fora de mim, entrando por mim a dentro, / solidão errante / órfã de centro”, - despojada de uma substância concreta, pois o eu está submerso no conjunto de significados que radicalmente o perfazem: “Volto, pois, a casa. Mas a casa, / a existência, não são coisas que li? / E o que encontrarei / se não o que deixo: palavras?”.
A emergência da ficcionalidade latente em cada eu, quando consciencializada – e esse é o lado mais trágico da poesia do autor -, reduz o seu horizonte projectivo, limita nele a sua telicidade: “eis o que há: a falta de alguma coisa”. O sujeito, descobrindo-se desprovido de finalidade, orienta o seu olhar para uma memória ironizada por um certo laivo crítico, objectivante, que retoma a descoberta do grão de areia da consciência que obstrui o ingénuo mecanismo do optimismo. Também na memória habita apenas a pessoa ausente, aquele eu que já não sou e que invento ao lembrá-lo. O carácter fictício invade também este espaço - “Literatura. Tornámo-nos, tu e eu, e também aquelas terríveis quatro horas da tarde, literatura. Em que outro lugar, em que outra morte, poderíamos nós ter encontrado refúgio?”. Presente, passado e futuro comprovam desse modo a incompletude do projecto de literalidade que o sujeito se prometera: “Vai pois, poema, procura / a voz literal / que desocultamente fala / sob tanta literatura.” Incapaz de pronunciar a coisa tal como ela é, a palavra é tão somente lateral - “(...) fez-se tarde / no que pode ser dito. Onde estavas / quando chamei por ti, literalidade?”, ela que é a última morada do eu, esperança derradeira também defraudada: “Nunca estive tão longe e tão perto de tudo. / Só me faltavas tu para me faltar tudo”.
O mundo converte-se assim em lugar de algum modo inóspito, em que o sujeito não pode fixar um espaço topofílico, um espaço de familiaridade, imerso como está no problema da sua ausência de personalidade: “As pessoas têm asuacasaeasuadoença/Masacasadapessoaéasua doença”. Viver transforma-se na procura de dito espaço, da supressão do desamparo existencial por alguém incapaz de cumprir a maturidade num presente que o aliena, prisioneiro ainda do conforto da casa familiar, da casa das origens: “Os homens temem as longas viagens, / os ladrões da estrada, as hospedarias, / e temem morrer em frios leitos / e ter sepultura em terra estranha. // Por isso os seus passos os levam / de regresso a casa, às veredas da infância, / ao velho portão em ruínas, à poeira / das primeiras, das únicas lágrimas”. O desejo de “dormir um sono sem olhos / e sem escuridão, sob um telhado por fim”, de encontrar “um sítio onde pousar a cabeça”, falha onde falha até mesmo a literatura. Os livros, «coisa hipócrita e escura», compõem-se das mesmas palavras que compõem o sujeito, que lhe negam o acesso ao real (a haver um): “As palavras (...) insubstanciais seres, incapazes também eles de compreender, / falando desamparadamente diante do mundo”.
No entanto, “é à sua volta / que se articula, balbuciante, / o enigma do mundo”. Na verdade, por todos os lados cercado por elas, o poeta sabe ainda que “Já não é possível dizer mais nada / mas também não é possível ficar calado.” E redescobre finalmente a satisfação do próprio processo, do estar a caminho onde estar e ser se confundem. Talvez a essência do homem não seja mais do que esse ser o caminho, o existir em função de uma ausência que lança o eu na vertigem da vida: “O braço que falta ao mendigo é que o sustenta”. E talvez por isso seja necessário preservar a impossibilidade de chegar ao fim, pois “se encontraste o que procuravas / perdeste-o e não começou ainda a tua procura”. Em certas zonas do caminho fulgurarão os instantes revelacionais em que de súbito o eu se descobre às portas de si mesmo: “E todavia em certos dias materiais / quase posso tocar os meus sentidos, / tão perto estou, e morrer nos meus sentidos”. É onde se aventa um balanço final para isto: “É um mundo pequeno, / habitado por animais pequenos / - a dúvida, a possibilidade da morte - / e iluminado pela luz hesitante de // pequenos astros – o rumor dos livros, / os teus passos subindo as escadas, / o gato perseguindo pela sala / o último raio de sol da tarde”. Esses pequenos astros são ainda um sentido. Na poesia de Manuel António Pina é sempre tarde demais para o sentido. Mas ser tarde é ainda um modo de se ter tentado. E triunfar do impossível talvez seja ter andado por aqui somente, como ele andou, a tentar.
